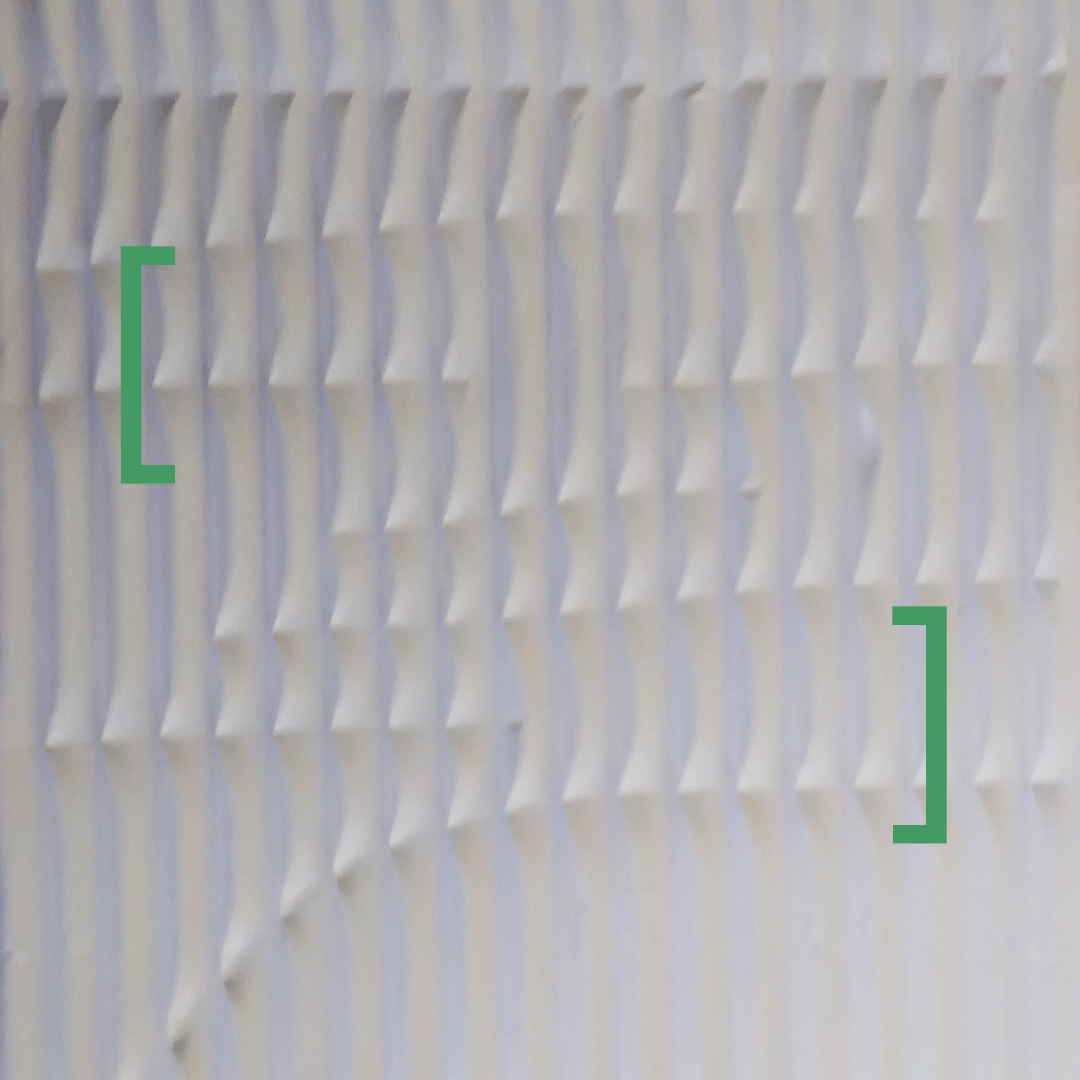Solidão Colaborativa
Por Cassiano Quilici – Artes da Cena
(Texto publicado no livro “O ator-performer e as poéticas da transformação de si”, ed. Annablume, 2015)
“Quem vive totalmente está vivendo para os outros,
quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva,
mesmo que a sua vida se passe dentro da
incomunicabilidade de uma cela.”
(Clarice Lispector)
Começo aqui com uma espécie de homenagem/evocação da solidão de certos escritores. Para nós do teatro, essa “arte coletiva por excelência” como se costuma dizer, o que significa meditar a qualidade e a potência dessa solidão? Nós, semeadores dos encontros, empenhados em convocar as energias do coletivo, sonhadores de uma outra “pólis”, o que temos a aprender na incomunicabilidade de uma cela? Não há nada a temer. Não proponho aqui uma volta nostálgica à literatura, ignorando as especificidades do fazer teatral. Os escritores em que penso (citados entre parêntesis) não fazem literatura desencarnada, esta que o teatro contemporâneo tratou de se desvencilhar. Não se trata também de elogiar uma solidão narcísica, fortaleza sedutora de um suposto “eu” preocupado com o seu aperfeiçoamento, em meio a livros de auto-ajuda. As notícias aqui são outras. Trazem ecos de mergulhos que nos ajudam a desfazer o nosso próprio nome. São rastros “dessas solidões primeiras, essas solidões de criança, que deixam em certas pessoas, marcas indeléveis” (Gaston Bachelard).
A escritora escreve com a máquina no colo, em meio ao barulho das crianças pela casa. Ela diz que tem telepatia com as coisas. Seus colaboradores mudos: os pequenos objetos ao seu redor, um inseto que passeia no chão, a janela aberta por onde entra um vento frio e revigorante. A escritora às vezes falta aos jantares e compromissos sociais. Retira-se porque precisa “morrer um pouco”, de vez em quando. Tenham paciência, depois ela volta. Comunicar-se com os outros é uma das suas razões de ser. Mas há também outros tipos de “outro” e não se deve desprezá-los. É preciso espaço e silêncio para não espantar esse “outro” que não é exatamente nosso semelhante. A hospitalidade ao estrangeiro, ao outrem que não tem a nossa cara (Emanuel Levinas). Como a criança que ainda se espanta com a formiga, a escritora não vive completamente dentro do mundo sociabilizado. Outros mundos se abrem para ela, microscópicos e pululantes. Ela participa de vários coletivos, humanos e não humanos. Ela não habita apenas a “pólis”, mas é atravessada e faz reverberar em si a grande vida, aquela que não é apenas a “sua vida”. Ela chega até a perguntar se o fascínio e o apego por essa grande vida que sempre retorna em múltiplas formas, não poderia ser outra espécie de prisão…
O que é preciso para viver a própria largueza, essa tarefa intransferível? É comum, hoje, que o recuo em relação às múltiplas solicitações de engajamento em redes de todos os tipos, seja lido negativamente, como um alheamento individualista. Mais do que isso, paira sobre aqueles que não estão de alguma maneira “plugados” a ameaça da exclusão. Resta saber do que estamos sendo excluídos e se não vale a pena sustentar também o estrangeiro e o exilado em nós. A submersão na hiperatividade contemporânea e o medo de ficarmos do lado de fora podem ser também uma espécie de alheamento, uma fuga dos espaços que se abrem quando nos desconectamos da adesão automática e ansiosa a coisas e pessoas.
Michel Foucault relembrou-nos desta antiquíssima uma noção, eclipsada com o tempo: “ocupar-se de si”. Esta atividade distinta das preocupações do “homem carcaça” com ambições de prestígio e poder, com desejos de assegurar-se no mundo, exigia justamente o afastar-se do magnetismo da vida comum e seu cortejo de apelos. A coragem de distanciar-se e habitar os desertos nascem naqueles que já se desiludiram um pouco, que namoraram a morte e a transitoriedade de tudo. Neles abre-se a possibilidade para a apreensão de uma inquietação radical, ligada a nossa experiência do tempo e do desejo, uma inquietação que não tem alvo definido e que nenhum lugar “instituído”, nenhuma objeto no mundo pode aplacar.
Ocupar-se de si é a tarefa de reconhecer esse desassossego originário e atravessá-lo. Cultivar um modo de vida e uma ética, uma estética da existência ou quem sabe uma espiritualidade. Está certo, precisamos de amigos e pessoas que nos ajudem na empreitada. Os melhores são aqueles que avançaram no próprio caminho. Eles sabem que não adianta se pendurar no “coletivo”, sentem quando há palavras demais, colaboram sustentando sua própria solidão, tal como a mãe serena ao lado da criança que brinca e às vezes se machuca (Donald Winnicott). Pois a confrontação direta com o desassossego é pessoal e intransferível. E eis que mesmo na “pólis” grega, o cuidado de si era entendido como pré-condição para aquele que quer exercer a atividade política. Desastroso seria envolver-se em assuntos públicos, em expandir a nossa ação no mundo, sem essa escuta primeira das questões, sem o trabalho sobre os próprios vícios e armadilhas. Lembremos, com humor, do título do livro de John Cage: “Diário de como mudar o mundo: você só tornará as coisas piores”.
Artaud dizia que o teatro deve ser, acima de tudo, um lugar onde o homem se refaz. Cada homem se refaz a partir do ponto em que se encontra. Pode-se passar a vida sem saber onde se está, sem ser ferido pela “inquietude de si”, sem reconhecê-la. É possível apenas criar condições propícias ao aflorar das questões e movimentos necessários. Algo assim com um processo colaborativo voltado, num primeiro momento, ao trabalho do artista sobre si mesmo. Se o trabalho é real e prossegue, a própria imagem de um “si mesmo” sólido e substancial talvez comece a fraquejar: abertura do “corpo vibrátil” (Suely Rolnik), porosidade às forças do mundo. O pretenso “eu”, atravessado pelos movimentos microscópicos de dentro e de fora, lentamente dissolve suas rígidas fronteiras.
A escritora sonha então que as paredes do seu quarto se transformam numa “geléia viva” (Clarice Lispector). Medo. Alguém que a acompanha, pede para que ela segure uma pedra e volte um pouco à solidez do mundo. Ela aprende, aos poucos, a transitar entre esses registros. É capaz de habitar a realidade convencional, o teatro dos papéis e das funções, mas sabe também abrir-se cuidadosamente ao murmúrio anterior aos nomes, ao teatro das energias. Ela sente uma alegria incomum. O nome que ela dá a isso é “saúde”.
A partir daí, o que significa comunicar-se? É claro que pode haver ali duas “subjetividades”, trocando endereços e tentando construir palavras-ponte entre os abismos que as separam. Elas interpretam o tal drama intersubjetivo. Mas quando o “sujeito” já se dissolveu um tanto no próprio abismo, quando ele já desconfia da sua própria consistência, as fronteiras são mais tênues e as misturas mais sutis. O que acontece “entre” é mais forte do que as polaridades. Não há nada a ser ostentado e nenhum território a ser defendido. A falsa fragilidade da situação abriga uma estranha intensidade. A presença irradiante como dádiva. A solidão transfigurada em abertura.
Voltemos então ao teatro, a “mais política das artes” (Hannah Arendt)! Buscamos nele reconhecer também o lugar do latente e do silencioso, para além de todos os “diálogos interiores”, de todas as cenas do “eu”. Inventamos que este lugar era semelhante ao espaço a partir do qual nasce a obra de alguns escritores, como descreveu Maurice Blanchot. Nós que trouxemos o escritor para a sala de ensaio, agora meditamos a potência de sua solidão. Que coragem é essa a dele, de manter-se afastado, quem sabe num deserto ou em algum lugar no próprio corpo, numa terra anterior às palavras, ouvindo ainda o murmúrio das imagens nascentes, dos pequenos impulsos, dos quase pensamentos? Que espaço “subjetivo” é esse? E se o que ele encontrar lá não for exatamente uma “subjetividade”? E se ele for tão fundo que acabe “vendo o seu rosto como era antes do nascimento”, como diz a história zen?
Mas há também o modo como essa experiência rebate nas relações com o mundo. Aqui ela nos inspira a pensar as formas do estar junto num processo criativo. Vejo mais um “estar ao lado” (como o “waki”, no teatro nô), presença que não se sobrepõe e que testemunha o que germina ainda informe em cada um. Penso num exercício da economia das palavras e das ações, que também não evita o confronto dialógico levado até o fim. Uma ética da atenção e da escuta, do acolhimento que abre espaço e discerne o acontecimento. Uma hospitalidade cuidadosa ao estrangeiro, que reconhece fronteiras e diferenças. O esforço atlético de conexão permanente com as próprias questões. A força dos processos colaborativos em consonância com qualidades do estar sozinho. Sonhos de um Dioniso noturno e subterrâneo. Visões de teatro grego revisitado por tradições orientais.
Imagem: momagraf/monicamartins.